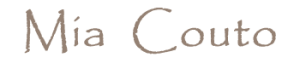Da cegueira colectiva à aprendizaem da sensibilidade
Quero, antes de mais saudar os professores. Durante anos, fui professor. E quando digo isto há uma emoção fortíssima que me atravessa. Eu não sei se há profissão mais nobre do que a de ensinar. E digo ensinar porque existe uma diferença sensível entre ensinar e dar aulas. O professor no sentido de mestre é aquele que dá lições.
Os professores que mais me marcaram na vida foram os que me ensinaram coisas que estavam bem para além da matéria escolar. Não esqueço nunca um professor da escola primária que um dia leu, comovido, um texto escrito por ele mesmo. Logo na declaração da sua intenção nasceu o primeiro espanto: nós, os alunos, é que fazíamos redacções, nós é que as líamos em voz alta para ele nos corrigir. Como é que aquele homem grande se sujeitava àquela inversão de papéis? Como é que aceitava fazer algo que só faz quem ainda está a aprender?
Lembro-me como se fosse hoje: o professor era um homem muito alto e seco e, nesse dia, ele subiu ao estrado da sala segurando, nos dedos trémulos, um caderno escolar. E era como se ele se transfigurasse num menino frágil, em flagrante prestação de provas. Parecia um mastro, solitário e desprotegido. Só a sua alma o podia salvar.
Depois, quando anunciou o título da redacção veio a surpresa do tema que parecia quase infantil: o professor iria falar das mãos da sua mãe. Éramos crianças e estranhámos que um adulto (e ainda por cima com o estatuto dele) partilhasse connosco esse tipo de sentimento. Mas o que a seguir escutei foi bem mais do que um espanto: ele falava da sua progenitora como eu podia falar da minha própria mãe. Também eu conhecera essas mesmas mãos marcadas pelo trabalho, enrugadas pela dureza da vida, sem nunca conhecerem o bálsamo de nenhum cosmético. No final, o texto acabava sem nenhum artifício, sem nenhuma construção literária. Simplesmente, terminava assim, e eu cito de cor: “é isto que te quero dizer, mãe, dizer-te que me orgulho tanto das tuas mãos calejadas, dizer-te isso agora que não posso senão lembrar o carinho do teu eterno gesto.”
Havia qualquer coisa de profundamente verdadeiro, qualquer coisa diversa naquele texto que o demarcava dos outros textos do manual escolar. É que não surgia ali, em destacado, uma conclusão moral afixada como uma grande proclamação, uma espécie de bandeira hasteada. Aquele momento não foi uma aula. Foi uma lição que sucedeu do mesmo modo como vivemos as coisas mais profundas: aprendemos, sem saber que estamos aprendendo. Lembro este episódio como uma homenagem a todos os professores, a esses abnegados trabalhadores que todos os dias entregam tanto ao futuro deste país.
Comecei por saudar os professores. Parece que me esqueci dos estudantes. Ou que os coloquei em segundo plano. Mas não.
Todos somos professores, mesmo que não o saibamos. Perante os outros, perante os nossos pais, perante os amigos, perante nós mesmos, com bons ou maus exemplos, com tristes ou gratificantes lições, todos somos professores. Um dos maiores professores do nosso tempo é um homem que nunca deu aulas. É um homem que ensinou a sermos mais humanos. Mais do que isso, é um homem que ensinou a ter esperança num mundo tão desesperançado. Esse professor de toda a humanidade, de todas as raças e credos, é um africano. Chama-se Nelson Mandela. A sua vida foi uma interminável lição. Mandela é hoje uma bandeira mundial não apenas porque foi um político que dignificou a política, mas porque nos dignificou a todos nós, seres humanos.
Deixem-me falar de Mandela. Este homem, que agora está doente e cansado, viveu encarcerado durante vinte e sete anos. Vinte e sete anos são mais do que o tempo de vida da maior parte dos presentes nesta sala. Vinte e sete anos de prisão é tempo suficiente para criar raiva, ódio e insuperáveis ressentimentos. Contudo, este homem converteu esse potencial negativo em força construtiva e reconciliadora. Um dos motivos de inspiração de Mandela foi ter encontrado num poema que se chama “Invictus”. Vou ler esse poema.
Do ventre da noite que tudo cobre
Negra como o fundo da cova escura
Agradeço aos deuses de todos os céus
Por quanto a minha invencível alma perdura
Ante as garras do cruel acaso
Nem eu tremi, nem o medo me turvou
Sob o peso da ameaça e da desumana violência
Eu sangrei mas a minha alma nunca se curvou
Não importa se a passagem é estreita
Não importa quantos castigos devo penar
Eu sou o dono do meu destino
Eu sou o capitão da minha alma.
Estes versos, meus amigos, foram uma espécie de suporte moral que deram força a Nelson Mandela. Vezes infinitas o prisioneiro 46664 da Ilha de Roben regressou a estes versos para não sucumbir. Como escritor e poeta, dá-me grande alegria saber deste poder da poesia. Neste caso, há qualquer coisa que deve ser acrescentada.
Na verdade, este poema foi escrito em 1875. O seu autor não foi um poeta sul-africano, não foi sequer um poeta africano. Quem escreveu estes versos foi um britânico chamado William Ernest Henley. Estes versos viajaram para além de séculos e continentes e iluminaram a esperança de um homem que, em vez de se vitimizar e procurar a vingança, nos deu uma eterna lição da crença nos outros.
Eu venho falar para a Escola de Comunicação e Artes. Por isso me demorei nestes episódios. Porque acredito que a comunicação e a arte são ferramentas de mudança tão importantes como a política. Mandela fez da política um instrumento de comunicação da verdade. Ele fez da política uma obra na arte da reconciliação, numa nação dividida pelo preconceito. Talvez a cultura seja o mais poderoso e duradouro instrumento de intervenção social. No nosso continente isso é bem claro. Vejamos um exemplo:
Desde há 50 anos, quando começaram a acontecer as independências, o nosso continente conheceu mais de 210 presidentes. O desafio que vos faço é o seguinte: digam o nome de 10 (apenas 10) destes dirigentes que se tenham notabilizado como figuras humanas de referência. Terão dificuldade. Será muito mais fácil enumerarmos artistas e intelectuais dignos de serem lembrados. E é aqui que a figura de Mandela é tão importante para nós, africanos. Podemos não nos lembrar de muitos políticos africanos que nos dignifiquem. Mas o nome de Mandela basta para compensar toda essa ausência e devolver o orgulho de sermos quem somos.
Caros amigos, vou entrar agora no tema central desta alocução.
Todos os dias centenas de chapas de caixa aberta transitam por esta cidade que parece afastar-se do seu próprio lema “Maputo, cidade bela, próspera, limpa, segura e solidária”. Cada um destes “chapas” circula superlotado com dezenas de pessoas que se entrelaçam apinhadas num equilíbrio inseguro e frágil. Aquilo parece um meio de transporte. Mas não é. É um crime ambulante. É um atentado contra a dignidade, uma bomba relógio contra a vida humana. Em nenhum lado do mundo essa forma de transporte é aceitável. Quem se transporta assim são animais. Não são pessoas. Quem se transporta assim é gado. Para muitos de nós esse atentado contra o respeito e a dignidade passou a ser vulgar. Achamos que é um erro. Mas aceitamos que se trata de um mal necessário dada a falta de alternativas. De tanto convivermos com o intolerável, existe um risco: aos poucos aquilo que era errado acaba por ser “normal”. O que era uma resignação temporária passou a ser uma aceitação definitiva. Não tarda que digamos: “nós somos assim, esta é a maneira moçambicana.” Desse modo nos aceitamos pequenos, incapazes e pouco dignos de ser respeitados.
O caso dos chapas é apenas um exemplo, uma ilustração de um processo que eu chamaria de “construção do inevitável”. E é simples: aos poucos, os passageiros do “chapa” deixam de ser visíveis. Na nossa sociedade essas pessoas já contavam pouco. É gente pobre, gente sem rosto, gente que não aparece na TV nem no jornal. Essa gente surgirá no jornal quando o “chapa” se acidentar. Mas aparecerá sem voz e sem nome. Um simples número para se contabilizar feridos e mortos. Em contrapartida, outras coisas ganharam brilho na nossa sociedade. Por exemplo, adquiriram toda a visibilidade dos carros de luxo de uma pequena minoria. Deixamos de ver os “chapas” mortais, mas estamos atentos aos sinais de ostentação dessa minoria.
O assunto que quero abordar convosco hoje é esta operação que banaliza a injustiça e torna invisível a miséria material e moral. Esta vulgarização faz perpetuar a pobreza e faz paralisar a história. Saímos todos os dias para a rua para produzir riqueza mas regressamos mais pobres, mais exaustos, sem brilho, nem esperança. De tanto sermos banalizados pelos outros, acabamos banalizando a nossa própria vida.
Estamos perante uma espécie de formatação mental e moral. A mensagem é a seguinte: querem dizer-vos que as nossas doenças sociais são incuráveis. Resta-nos viver de remendos e expedientes.
Visitou-me um escritor amigo da Nigéria. Ele percorreu as cidades de Moçambique e ligou-me de Pemba. A primeira coisa que ele disse: Estou maravilhado! Vocês têm estações de gasolina a funcionar! O seu espanto espantou-me a mim. Principalmente porque esse assombro provinha de um cidadão da Nigéria, o maior produtor de petróleo de África. Só depois entendi. O que passa na Nigéria – depois de 50 anos de exportação de petróleo – é que as cidades nigerianas não possuem aquilo que para nós é comum: estações de gasolina vendendo gasolina. As bombas de combustível naquele país estão quase todas fechadas e a gasolina é vendida em garrafas e jerricans nos passeios públicos. Para alguns esse é um processo natural em África. Mas não é. O que sucedeu foi o seguinte: o governo subsidiou os preços dos combustíveis mas não foram os mais desfavorecidos que lucraram mais. Foi uma parte da elite nigeriana que se apoderou dos circuitos formais e desviou para os mecanismos informais a distribuição e venda do combustível. Uma vez mais, os ricos tornaram-se ainda mais ricos. Mas não é a questão politica que eu quero trazer aqui. A questão é que, para o cidadão da Nigéria, aquele sistema de venda, à maneira do dumba-nengue, se tornou normal. Ver bombas de gasolina a funcionar numa nação bem mais pobre como é Moçambique foi, para ele, um motivo de surpresa. Eu vejo muito africanos proclamarem que os mercados informais são a única maneira que África sabe fazer comércio. Que apenas nas barracas sabemos comer e beber. É mentira. A dumba-nenguização da economia é uma estratégia escolhida para fugir dos impostos, para escapar das obrigações para com o património público. Quando o meu amigo nigeriano voltou a Maputo ele disse-me o seguinte:
A minha surpresa não foi tanto o que eu vi em Moçambique. Foi sim o que já não sabia ver na Nigéria.
O principal aliado dos tiranos é a cultura da aceitação. Talvez alguns de vocês sabem que sou um dos autores do Hino Nacional. Quando entregamos o Hino para aprovação na Assembleia da Republica nós não podíamos imaginar que alguns deputados se sentissem incomodados com a passagem da letra que diz: Nenhum tirano nos irá escravizar. É claro que a letra não fala do presente. Mas um hino é feito para durar. E quem pode garantir que um candidato a tirano não assaltará a nossa futura história? O melhor modo de prevenir esse risco não é apenas consolidar a democracia política. É investir numa cultura viva, numa cidadania de construção do futuro. O que me interessa falar aqui, numa Escola de Arte e Cultura é a dimensão cultural das nossas pequenas e grandes misérias.
A invocação da chamada “africanidade” é uma das armadilhas mais usadas pelos tiranos. No Malawi atacaram e rasgaram a roupa de mulheres pelo simples facto de andarem de calças. Mulheres de calças não é uma coisa africana – foi o que invocaram os agressores. Em nome de África se agrediram e mataram pessoas apenas porque eram homossexuais. Em nome da pureza africana se continua a impedir que, apenas por serem do sexo feminino, milhares de crianças não prossigam os seus estudos. Em nome de África se cometem os maiores crimes contra África. O nosso continente é feito de passado e tradição, sim. Mas é feito de modernidade. É feito de mudança. Como todos os outros continentes.
As dinâmicas de mudança confrontam-se com uma identidade feita de passado e tradição. Tudo isto tem a ver com o processo da construção do inevitável. Esse processo envolve o mecanismo da acomodação e o mecanismo da invisibilidade. A acomodação tem várias facetas. Sabemos que está errado, mas nada fazemos. Porque temos medo. Porque achamos que não tem a ver connosco. Ou porque fazemos cálculos. É melhor calar e ser promovido. É melhor recolher uns magros favores em troca do nosso silêncio e da nossa cumplicidade.
O mecanismo da invisibilidade foi tratado por José Saramago no livro O ensaio sobre a cegueira. Nós estamos doentes, não porque os olhos tenham alguma deficiência, mas porque deixamos de saber olhar. Deixamos de querer ver. E deixamos de nos ver a nós mesmos. No fundo, este é o desfecho desse processo de alienação. Tornamo-nos cegos. Quem não vê, aceita que outros lhe digam como é o mundo.
Eu rabisquei uma lista de fenómenos sociais que se tornaram invisíveis em Moçambique. A lista é bem extensa. Mencionarei apenas alguns.
A violência contra os mais fracos
O primeiro desses fenómenos é a violência. Dizemos com frequência que somos um povo pacífico. Isso é verdade. Mas os povos todos, do mundo, são pacíficos por natureza. O que muda é a sua história. Assim, é verdade que somos um povo pacífico, mas também é verdade que foi esse povo pacífico que fez uma guerra civil que matou cerca de um milhão de pessoas. A guerra terminou em 1992, e essa data é talvez a mais importante da nossa história recente, depois da Independência Nacional. Terminou o conflito militar, mas não terminaram outras guerras silenciosas, invisíveis e perversas.
Hoje somos uma sociedade em guerra consigo mesma. Os alvos dessa guerra são sempre os mais fracos. Estamos em conflito com as mulheres, com as crianças, com os velhos, estamos em guerra com os pobres, com aqueles que não têm poder. Somos uma sociedade obcecada pelo Poder. Quem não tem poder é como quem circula na traseira do chapa: não existe. Tudo tem uma leitura política, o mais pequeno detalhe é um recado, uma definição de hierarquias. Quem chega primeiro à reunião, onde se senta, quem não comparece à cerimónia, com que carro chegou, de quem se faz acompanhar, tudo isso são sinais de poder. Nas ruas sou chamado de patrão, sou chamado de “boss”, porque a minha cor da pele é tida como um sinal de Poder. O vendedor de viaturas insurgiu-se com a escolha de um carro que eu queria comprar. Deixe que escolho um carro compatível com o seu estatuto.
Estamos em guerra connosco mesmos e o primeiro desses alvos é curiosamente uma maioria: as mulheres. Em Moçambique há mais um milhão de mulheres que homens. Mas ao nível das percepções, os homens dão pouca importância a essa verdade. Eles são chefes, os donos, e olham as mulheres como uma pertença privada. As mulheres, por outro lado, ainda pedem licença para existir. A maioria das mulheres que são objecto de violência dos maridos acha que isso não é um crime. Acham normal, acham natural. Ser agredida faz parte do seu destino, da sua imutável natureza.
E conto-vos três episódios reais, que retirei da nossa imprensa apenas nas últimas semanas:
Em Cabo Delgado 17 homens violaram uma mulher que se atreveu a atravessar o acampamento onde se praticavam os rituais de iniciação. Da parte das autoridades locais houve uma inaceitável passividade. Foi necessária insistência da família e de ONGs para que houvesse uma insuficiente resposta.
Em Manica dois jovens violam sexualmente uma mulher no sétimo mês da gravidez.
Em Tete um homem mata a criança de dois meses e esfaqueia gravemente a mulher porque a meio do dia ele chegou a casa e a mulher recusou fazer sexo com ele. O jornalista da televisão que entrevista o confesso culpado sugere uma quase legitimidade do acto ao perguntar: “o senhor devia estava necessitado não é verdade?”.
Reclamamos a violência da rua, mas é mais provável uma mulher ser agredida dentro de casa do que fora de casa. É mais provável uma criança ser agredida e violentada no espaço da sua família. Esta tendência não sucede apenas em Moçambique, mas no mundo. As estatísticas são reveladoras e assustadoras: cerca de 70 por cento dos actos de violência contra a mulher acontecem dentro da casa. Mais de 60 por cento dos assassinatos de mulheres são cometidos pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Em todo o mundo, uma em cada três mulheres ou já foi ou irá ser agredida ou violentada. Não é pois Moçambique que é afectado de modo particular. O que sucede é que para nós essa violência é legitimada por razões que se dizem culturais. Nós ainda banalizamos muito facilmente. É ainda prevalecente a ideia de que a mulher é que é culpada, porque ela é quem provoca a violência. Ainda achamos que este assunto não tem a ver connosco, que é para ser denunciado pelas ONGs. Isto é, desresponsabilizamo-nos. Mesmo sendo mulheres, achamos que este assunto tem a ver com os outros. Mesmo sendo homens, que têm mães, irmãs e filhas, achamos que isto não tem nada a ver connosco.
OUTRA GUERRA – AS VIUVAS
Sugiro que leiam o livro de Fabrício Sabat, chamado As viúvas da minha terra, para ficarem com uma ideia do crime generalizado que é cometido contra mulheres que vivem um momento dramático da sua vida. E nesse exacto momento de fragilidade, são assaltadas pelos próprios parentes. Levam-lhes os bens, os filhos, o sossego.
CASO DAS VELHAS
Acusadas de feitiçaria, roubaram-nas durante a vida, fizeram sumir a sua infância e juventude e, no final, roubaram a possibilidade de uma velhice tranquila, usufruída com os netos e as lembranças. Está longínqua a imagem de África como um lugar especial porque os velhos são respeitados.
GUERRA CONTRA OS GAYS E AS LÉSBICAS
Moçambique nem é dos países menos tolerantes. Há países que consideram formal e legalmente um crime o simples facto de ser ter uma orientação sexual diferente. Mesmo assim, há entre nós, uma enorme intolerância.
CASO DOS DOENTES MENTAIS
Nós estamos tão ocupados com outras doenças que esquecemos que não é apenas o HIV SIDA que tem implicações do ponto de vista do estigma social. As doenças mentais são outro mal não visível. Não creio que existam estatísticas da prevalência de doenças mentais em Moçambique. Mas a média em África é de 14 por cento da população.
ALBINOS
Vou contar-vos um episódio real. Conheci um pedreiro que chamarei apenas por Fabião, que certa vez executou uma obra para minha casa. Um dia, uma moça albina veio à minha porta pedir água. O pedreiro desceu do escadote onde trabalhava para me dar conselhos: “é melhor não dar, ou usar um copo que depois deita fora”. Quando lhe perguntei porquê, ele respondeu: “aquela tjidajna é alguém que tem muitos problemas”. E reproduziu os habituais mitos e preconceitos sobre os albinos. No final confessou: “ainda bem que na minha família nós não temos disso».
Passaram-se anos e a semana passada o mesmo Fabião ligou para mim a perguntar se era possível entrar sem convite na exposição “Filhos da Lua”, na Fortaleza de Maputo. Ele ouviu na rádio que a exposição tinha por tema “os albinos” e estava muito interessado em levar a sua filha a esse evento. “É que a minha filha nasceu albina.” Fabião não podia nunca imaginar ser pai de uma tjidjana. Mas foi. E ele agora, por amor a essa menina, queria enfrentar junto com ela os preconceitos que ele mesmo guardava dentro de si. Chamei Fabião e ofereci-lhe que levasse para a sua filha dois discos. Um de Salif Keita, outro do nosso Aly Fake. E disse “esses são os melhores copos de água. Refrescam a alma”.
Muitas vezes pensamos que essas diferenças vivem fora de nós. A diferença está dentro de nós. Um em cada 35 moçambicanos é portador do gene do albinismo. Um em cada 35 pessoas é portador dessa gente. Nenhum de nós sabe à partida se poderá ser pai ou mãe de uma criança albina.
GUERRA COM OS MORTOS
Até aqui falei de conflitos com mulheres, crianças, velhos. Mas todos esses segmentos sociais são compostos por gente viva. O mais triste é que a nossa sociedade entrou em guerra com os seus próprios mortos. Este é o sintoma mais grave da nossa patologia social: passamos a maltratar até os nossos mortos. O que acontece nos nossos cemitérios é um atentado contra os mais básicos princípios morais. As famílias enterram os seus entes queridos e são obrigadas a retirar o mais ínfimo valor que acompanhe o falecido. Sabem que no dia seguinte, o caixão foi assaltado, o morto foi despido. As próprias jarras de flores são quebradas antes de serem colocadas para prevenir que sejam roubadas e vendidas. Não contentes em assaltarem os vivos, há gangs que se especializaram em roubar os mortos. Nem depois do último suspiro estaremos a salvo dos ladrões.
Meus amigos
Eu disse que estávamos em guerra connosco mesmos. Esta guerra doméstica compõe-se de duas violências. A violência daqueles que agridem. E a violência dos que se calam. Marthin Luther King disse “O que me entristece não é apenas o clamor dos homens maus. É o silêncio dos homens bons”.
A lista das nossas guerras domésticas estende-se por mais domínios. Os exemplos que escolhi ilustram o facto de que não somos a sociedade pacificada que pretendíamos ser. Há um percurso enorme a percorrer e esse caminho é sobretudo uma viagem interior. Essa viagem só acontecerá se vocês souberem ver, souberem não aceitar. Tudo o que aqui disse pode ser resumido em dois textos pequenos de autores alemães. Peço-vos que escutem. O primeiro é uma parábola e diz o seguinte:
“Um dia, vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e levaram-me mim. Nessa altura, já não havia mais ninguém para reclamar.”
O segundo texto é um apelo na forma de verso, escrito pelo dramaturgo Bertolt Brecht:
“Nós pedimos-vos com insistência:
Nunca digam – Isso é natural.
Diante das barbaridades de cada dia,
Numa época em que corre sangue
Num tempo em que a arbitrariedade tem força de lei,
Num momento em que a humanidade se desumaniza
Não digam nunca: Isso é natural
Se aceitamos as coisas como naturais
este nosso mundo torna-se imutável
Caros amigos
O nosso tempo também está em guerra contra os jovens. À nossa frente, e não falo apenas de Moçambique, se anunciam tempos difíceis. À nossa frente está um futuro magro em que parece que apenas alguns podem caber. O que nos sugerem é que briguemos uns com outros para ver quem cabe nessa estreita porta. Mas talvez seja possível criar um outro futuro mais amplo.
Vão ser assediados. Por forças políticas que estão mais preocupadas com o Poder do que com a resolução efectiva dos problemas. Por forças que se lembram dos jovens quando se trata de colher votos. Por forças que falam aos jovens, não falam com os jovens.
Vocês são jovens. Ser jovens é uma condição inerente, que se exerce sem esforço. Mais do que jovens, sejam diferentes. Tragam para o nosso tempo o inesperado, o que é novo, o que é historicamente produtivo.
Uma nova classe está povoando o poder político em Moçambique. São os papagaios. Reproduzem o discurso dos chefes. A maior parte deles são jovens. Mas são jovens de alma envelhecida. Os papagaios podem pensar que o seu futuro está assegurado porque olham o país como se fosse um aviário. Mas o nosso futuro como nação não se constrói senão com ousadia, com vitalidade e um infinito respeito pelos outros.
Ficamos muitas vezes à espera, ficamos à espera que o governo faça. Temos medo de tomar iniciativa. Achamos arriscado. Não agimos porque dizemos que faltam recursos, falta orçamento, falta autorização do chefe. Mas existem lições que parecendo pequenas podem tocar alguém para toda a vida.
O professor primário que leu uma redacção sobre as mãos calejadas de sua mãe não imaginava que estaria marcando para sempre um aluno seu. O poeta William Henley não poderia imaginar que versos seus poderiam sustentar, cem anos mais tarde, a vontade de lutar de um africano que iria mudar o destino de milhões de pessoas.
Fazemos o que fazemos não porque sejam grandiosas iniciativas mas porque necessitamos mudar as coisas e melhorar o mundo. Fazemos o que fazemos porque, como diz o poema, nós queremos ser donos do nosso destino e capitães da nossa alma colectiva.
Aula inaugural – Escola de Comunicação e Artes- UEM. 2012