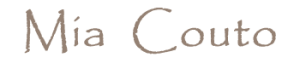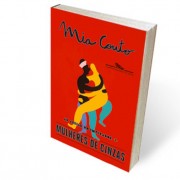Trecho do livro “Mulheres de cinzas”
Segundo o noticiado pelo Blog da Companhia, no dia 23 de novembro, chegou às livrarias brasileiras o novo romance de Mia Couto, Mulheres de cinzas. Primeiro volume da trilogia As Areias do Imperador, o livro é um romance histórico sobre a época em que o sul de Moçambique era governado por Ngungunyane (ou Gungunhane, como ficou conhecido pelos portugueses), o último dos líderes do Estado de Gaza — segundo maior império no continente comandado por um africano.
Em Mulheres de cinzas, acompanhamos a história de Imani, uma jovem de 15 anos que pertence à tribo dos VaChopi e que, por saber a “língua dos europeus”, passa a servir de intérprete a Germano de Melo, um sargento enviado a Nkokolani para a batalha contra o imperador que ameaçava o domínio colonial. Enquanto um dos irmãos de Imani lutava pela Coroa de Portugal, o outro se unia ao exército dos guerreiros do imperador africano.
O envolvimento entre Germano e Imani passa a ser cada vez maior, malgrado todas as diferenças entre seus mundos. Porém, ela sabe que num país assombrado pela guerra dos homens, a única saída para uma mulher é passar despercebida, como se fosse feita de sombras ou de cinzas. Ao unir sua prosa lírica característica a uma extensa pesquisa histórica, Mia Couto construiu um romance belo e vívido, narrado alternadamente entre a voz da jovem africana e as cartas escritas pelo sargento português. A seguir, leia um trecho de Mulheres de cinzas.
* * *
Chamo-me Imani. Este nome que me deram não é um nome. Na minha língua materna “Imani” quer dizer “quem é?”. Bate-se a uma porta e, do outro lado, alguém indaga:
— Imani?
Pois foi essa indagação que me deram como identidade. Como se eu fosse uma sombra sem corpo, a eterna espera de uma resposta.
Diz-se em Nkokolani, a nossa terra, que o nome do recém-nascido vem de um sussurro que se escuta antes de nascer. Na barriga da mãe, não se tece apenas um outro corpo. Fabrica-se a alma, o moya. Ainda na penumbra do ventre, esse moya vai-se fazendo a partir das vozes dos que já morreram. Um desses antepassados pede ao novo ser que adote o seu nome. No meu caso, foi-me soprado o nome de Layeluane, a minha avó paterna.
Como manda a tradição, o nosso pai foi auscultar um adivinho. Queria saber se tínhamos traduzido a genuína vontade desse espírito. E aconteceu o que ele não esperava: o vidente não confirmou a legitimidade do batismo. Foi preciso consultar um segundo adivinho que, simpaticamente e contra o pagamento de uma libra esterlina, lhe garantiu que tudo estava em ordem. Contudo, como nos primeiros meses de vida eu chorasse sem parar, a família concluiu que me haviam dado o nome errado. Consultou-se a tia Rosi, a adivinha da família. Depois de lançar os ossículos mágicos, a nossa tia assegurou: “No caso desta menina, não é o nome que está errado; a vida dela é que precisa ser acertada”.
Desistiu o pai das suas incumbências. A mãe que tratasse de mim. E foi o que ela fez, ao batizar-me de “Cinza”. Ninguém entendeu a razão daquele nome que, na verdade, durou pouco tempo. Depois de as minhas irmãs falecerem, levadas pelas grandes enchentes, passei a ser chamada de “a Viva”. Era assim que me referiam, como se o facto de ter sobrevivido fosse a única marca que me distinguia. Os meus pais ordenavam aos meus irmãos que fossem ver onde estava a “Viva”. Não era um nome. Era um modo de não dizer que as outras filhas estavam mortas.
O resto da história é ainda mais nebuloso. A certa altura o meu velho reconsiderou e, finalmente, se impôs. Eu teria por nome um nome nenhum: Imani. A ordem do mundo, por fim, se tinha restabelecido. Atribuir um nome é um ato de poder, a primeira e mais definitiva ocupação de um território alheio. Meu pai, que tanto reclamava contra o império dos outros, reassumiu o estatuto de um pequeno imperador.
Não sei por que me demoro tanto nestas explicações. Porque não nasci para ser pessoa. Sou uma raça, sou uma tribo, sou um sexo, sou tudo o que me impede de ser eu mesma. Sou negra, sou dos VaChopi, uma pequena tribo no litoral de Moçambique. A minha gente teve a ousadia de se opor à invasão dos VaNguni, esses guerreiros que vieram do sul e se instalaram como se fossem donos do universo. Diz-se em Nkokolani que o mundo é tão grande que nele não cabe dono nenhum.
* * *
Fonte: Blog da Companhia